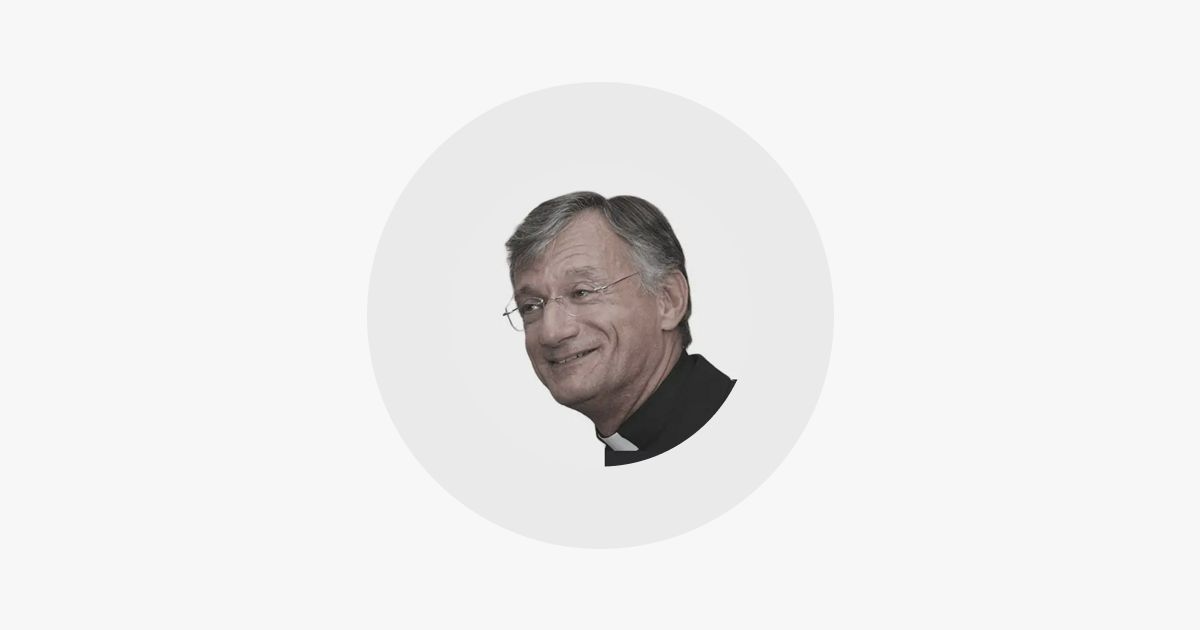A universidade depois do "prompt"
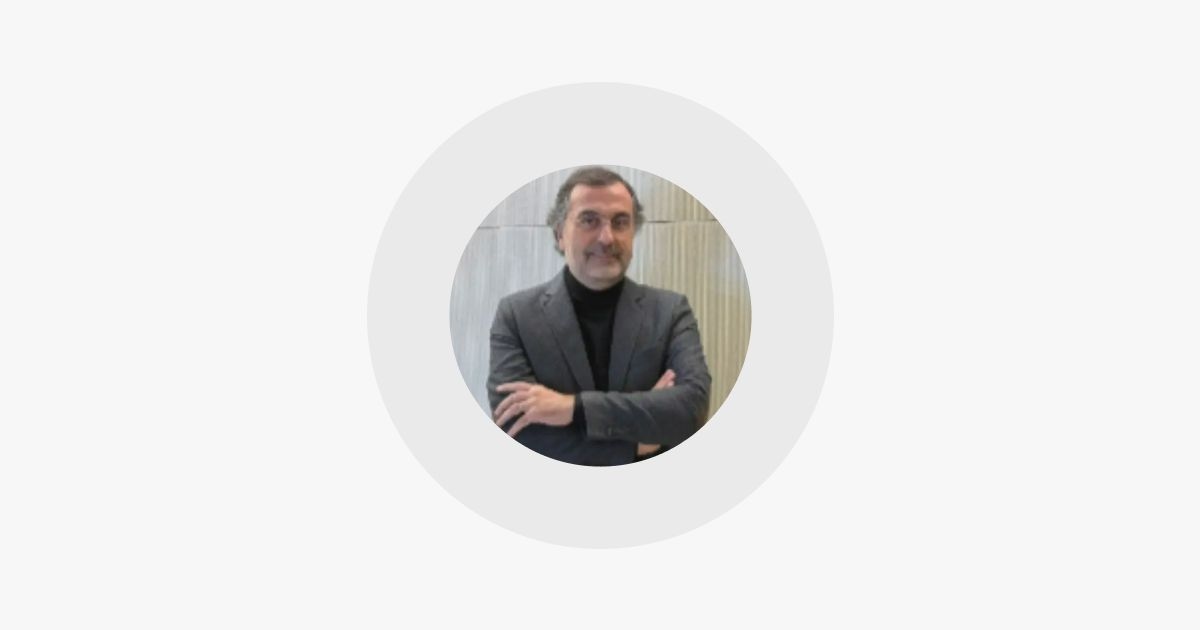
Nos últimos dias, em São Francisco, a OpenAI organizou o seu DevDay como quem inaugura uma nova praça pública da era digital. Anunciaram-se números em cadência triunfal: quatro milhões de programadores semanais, oitocentos milhões de utilizadores do ChatGPT, mais de seis mil milhões de tokens por minuto; métricas que fariam inveja aos velhos barões do aço. Sam Altman garantiu que “o futuro da construção requer apenas uma boa ideia”. Tradução livre: a fricção técnica é um detalhe; o resto é imaginação e prontidão. No centro do palco, um novo léxico operativo, Apps dentro do ChatGPT, um Agent Kit que promete orquestrar tarefas, um Codex que refratora e reescreve software em tempo real, e modelos com mais razão do que cerimónia: GPT-5 Pro para problemas difíceis, GPT-Realtime Mini para uma voz barata, mas convincente, e Sora 2 a emparelhar imagem com som e, se preciso, com a nossa própria fotografia. Em suma, a promessa de que o que antes levava meses agora leva minutos, desde que a ideia seja decente e o prompt, feliz.
Há, porém, uma ironia discretíssima e por isso mais contundente. Quanto mais as máquinas parecem inteligentes, mais evidente se torna que não têm consciência. O GPT manuseia a linguagem com a elegância de um ensaísta, prevê contextos, encaixa referências e responde com uma segurança às vezes desconcertante. Mas é uma inteligência de superfície: sintaxe sem semântica. Fala de amor sem o sentir, de ética sem o peso do escrúpulo, de economia sem o nervo do risco. O Sora produz imagens comoventes e coreografa movimentos com uma verosimilhança quase insultuosa para o cinema de orçamento reduzido. Mas não “vê” o que produz; simula. Os agentes, esses novos pequenos chefes do automatismo, planeiam, avaliam, chamam outras IAs, refazem passagens e regressam com uma confiança de estagiário prodígio. Vontade? Apenas a de um cálculo que otimiza a próxima ação. É a vitória da forma sobre a essência, o triunfo de uma teatralidade estatística. A máquina finge ver; nós é que insistimos em confundir visão com brilho.
Nada disto seria especialmente dramático se, ao mesmo tempo, a cultura do esforço e do confronto intelectual não estivesse a encolher nos lugares onde deveria florescer. Veja-se Harvard, essa catedral do mérito, que recusa, com método, 97% dos candidatos. Um relatório interno, notícia recente do New York Times descreve um campus onde demasiados estudantes “faltam às aulas e continuam a ter boas notas”; onde a presença é substituída por vídeos, a leitura por resumos e a coragem de falar por um silêncio nervoso. Uma estudante admite o óbvio: “Se podem ter boas notas sem ir às aulas, deixam de ir.” O relatório assinala ainda que apenas um terço dos finalistas se sente completamente livre para expressar ideias controversas. Uma sala de aula que não incentiva a contradição torna-se um auditório de ecos: confortável, mas intelectualmente estéril. E, depois, a estatística que deveria enrubescer quem dirige: a inflação de notas transformou a excelência numa experiência quase universal, diluindo-a até à insignificância. Quando tudo é “A”, o mérito é ruído.
A derrota silenciosa do debate não é apenas um capricho de Cambridge, Massachusetts: é um sintoma geral. A Gallup registou este setembro um novo mínimo histórico na perceção pública do valor do ensino superior: só 35% dos americanos consideram que a universidade é “muito importante”. O resto divide-se entre o “razoavelmente importante” e um crescente “não muito importante”. É difícil ser mais claro do que o título: “Perceived Importance of College Hits New Low.” Quando a confiança social na universidade desce assim, não estamos perante uma crise de reputação; estamos perante uma crise de função.
Em Portugal, a maré também recua. A primeira fase de colocações trouxe menos estudantes, menos entusiasmo e mais perguntas. Uns indicam que é “urgente conhecer as causas” da descida, que ronda vários milhares de estudantes face ao ano passado, uma queda de dois dígitos pouco comum num país sem choques económicos visíveis nesse intervalo. Outros apontam razões que vão das alterações na avaliação no secundário ao excesso de oferta e à desarticulação entre cursos e saídas claras. Nada como as próprias instituições a reconhecerem que talvez tenham catálogos demais e identidade de menos.
A tentação, diante disto, é a resposta disciplinar: evitar ou até proibir a tecnologia. Higiene sem clínica, para citar os próprios corredores de Harvard, onde há “device-free sections” vazios a atestar o óbvio: a proibição, por si, não recompõe a razão de estar ali. O verdadeiro embaraço é outro: em 2025, qualquer estudante com um prompt competente pode obter do GPT-5 Pro um resumo aceitável, uma estrutura elegante e um ângulo plausível, tudo em minutos. O que fazer, então, com uma hora de seminário às oito da manhã? A pergunta pode parecer cínica; é apenas honesta.
É aqui que as promessas do DevDay e o mal-estar universitário se tocam. A OpenAI vende execução instantânea; a universidade vende formação demorada. Não é uma luta simétrica. O marketing da velocidade fala ao nosso hedonismo cognitivo. A disciplina da lentidão (ler, discutir, rever, errar, reescrever) fala ao nosso caráter, precisamente aquilo que se não compra, não terceiriza e não se “gera” com SDKs. Para não ceder ao niilismo afável, convém desenhar a alternativa sem recorrer ao puritanismo anti tecnologia. E ela existe.
Há, contudo, um caminho que não passa por proibir o século XXI à porta da sala. Se a OpenAI transforma o chat no novo hub de execução, as universidades podem transformar a presença em laboratório de risco intelectual. Menos transmissão, mais confronto; menos slides, mais ensaio (o género literário, sim, mas também o laboratório de errar). Trabalhos que não possam ser terceirizados para um agente: debates vivos, moot courts, hackathons com parâmetros mutantes, orais vivas onde o raciocínio se testa ao vivo. E, se querem uma provocação pragmática: avaliem o processo, não apenas o produto; e registem o processo com as mesmas tecnologias que hoje facilitam a simulação do produto. A IA fica no circuito, mas como espelho crítico, nunca como substituto da caminhada.
No fundo, o que o DevDay nos mostra, com brilho técnico e uma audácia quase inocente, é que a execução está resolvida para quem tiver ideias decentes e algum tato com linguagem. O que a crise do ensino superior nos lembra, com menos slides e mais realidade, é que ter ideias decentes exige musculatura que não nasce de atalhos. A IA dá-nos velocidade; a universidade tem de dar-nos direção. Uma sem a outra é um carro desportivo num labirinto.
Não se trata, note-se, de expulsar a IA da sala: trata-se de a colocar no sítio certo. Como recurso explícito e auditável, não como sombra conivente. O seminário ganha quando pede ao estudante que escreva um texto que é, ao mesmo tempo, um relatório de processo: rascunhos, prompts usados, iterações, escolhas e rejeições e uma defesa oral em que o autor tem de habitar o texto, não apenas o imprimir. O moot court ganha quando a argumentação é interpelada por contraexemplos não triviais e passa a depender menos do verniz e mais da estrutura. A hackathon ganha quando a tarefa muda a meio e o grupo tem de redesenhar não só o código, mas a estratégia. O que fica no fim, se tudo correr bem, não é uma “peça de trabalho” com acabamento industrial. É uma pessoa mais preparada para o inesperado.
Voltemos, então, ao começo. A OpenAI mostrou um stack inteiro para novos criadores: Apps SDK para levar software a milhões de utilizadores dentro do ChatGPT, Agent Kit para desenhar e medir agentes com menos fricção, um Codex mais musculado para equipas que falam com o Slack, e modelos cujo objetivo é tornar natural o que ontem era prodigioso. É uma visão coerente: o chat como plataforma, o agente como operador, o SDK como ponte, o modelo como motor. O que falta e nunca fará parte do roadmap da OpenAI é a decisão sobre fins. Para que serve esta rapidez? Em nome de quê é usada? Quem aprende a distinguir entre um argumento elegante e um verdadeiro? A resposta, por mais antiquada que soe, continua a chamar-se educação. Não a educação que distribui “A” por atacado; a que recupera a exigência como ato de respeito.
“Os estudantes têm de querer vir”, dirá o pragmático. Correto. Mas para isso a sala tem de oferecer algo que o prompt não dá: o choque útil do desacordo, a proteção para errar com inteligência, a lente para ver as consequências morais do que se propõe, o treino para responder quando o mundo, esse terrível improvisador, muda as regras no meio do jogo. O resto, as notas inflacionadas, os catálogos intermináveis, as aulas fantasma, é teatro de boas intenções. E já temos simuladores que fazem esse teatro melhor do que nós.
Num país que discute a queda de candidatos e a multiplicação de cursos sem destino claro, a reforma não é um desejo pio: é um programa. Menos redundância, mais clareza; menos promessas genéricas, mais itinerários com accountability. Em paralelo, admita-se o que a Gallup pôs a preto e branco: a fé social na universidade está a ceder. Para a recuperar, não bastam campanhas. É preciso que, ao entrar num curso, um estudante possa responder, sem ironia, à pergunta que importa: “O que posso fazer aqui que não posso fazer num chat?” Se a resposta for convincente, as salas enchem. Se não, contentemo-nos com um simulacro bem escrito.
E sim, a máquina continuará a fingir ver. Cabe-nos a nós devolver o olhar e fazer dele pensamento.
observador